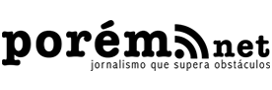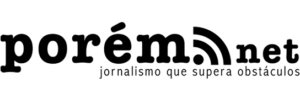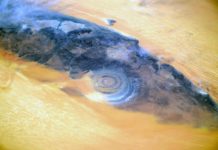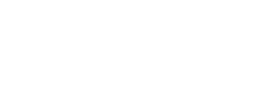A cineasta, crítica de cinema e pesquisadora carioca Maria Caú gosta de frisar que é feminista e aficionada pelo cinema de Woody Allen, duas coisas que, no momento atual, parecem difíceis de conectar. Sobretudo quando são vistas frente às diversas denúncias de assédio sexual que têm assombrado Hollywood e diante do retorno à mídia das acusações que o diretor de “Manhattan” sofreu no passado.

Maria Caú tem estudos sólidos sobre a obra de Woody Allen, tendo dedicado oito anos de sua vida em um mestrado e doutorado nos quais os filmes do cineasta foram o foco de suas atividades acadêmicas. Tanto mestrado quanto doutorado foram realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Literatura Comparada. Sua dissertação foi, inclusive, publicada em 2015 como livro sob o título: “Olhar o Mar – Woody Allen e Philip Roth: a Exigência da Morte”. Mas os exemplares já estão esgotados. A tese, que ela gostaria de ver também impressa, talvez não tenha a mesma sorte. “Não sei se alguma editora irá querer publicar um livro sobre Woody Allen neste momento”, duvida.
Caú também escreve para o site Delirium Nerd e é uma das apresentadores de um vlog chamado A Lente Escarlate, além de ser uma das integrantes do coletivo de mulheres críticas de cinema Elviras. “Escrevo de tudo um pouco, de poesia a receita de bolo”, brinca.
O Porém.net conversou com a pesquisadora sobre Woody Allen e sobre toda a polêmica que envolve sua vida e obra, bem como sobre o feminismo e as posturas éticas frente o cinema. Allen vem sendo alvo de fortes boicotes, o que pode ter encerrado sua extensa carreira. É nesse contexto que Caú elabora a frase título desta entrevista: “se você diz às pessoas que elas não podem ver alguma coisa, e essa coisa não tem um claro discurso de ódio, você é um censor”. Contudo, para a cineasta, é importante respeitar as pessoas que pensam à favor e contra o boicote. Segundo ela, “é uma questão individual e que cada um tem que responder por si só”.

Você fez mestrado e doutorado sobre Woody Allen. O que foram essas tuas pesquisas e por que você decidiu estudar a obra dele?
Eu sempre gostei muito dos filmes do Woody Allen. Sempre tive uma relação muito pessoal com os seus filmes e sempre achei que ele abordava temas que me eram muito caros. Quando eu tinha 19 para 20 anos, meu pai faleceu. Ele gostava muito de cinema. Eu fiquei muito deprimida, foi um negócio bem trágico. Meus amigos, tentando me animar, compraram livros do Woody Allen. Ele tem esses livros que são compilações de crônicas publicadas na New Yorker. Movida por isso, eu aluguei uns DVDs com seus filmes. Fiquei assistindo aqueles filmes e lendo aquelas crônicas. Aquilo me deu uma sensação de que a vida ainda tinha um certo sentido. Está parecendo uma idolatria, mas não é isso. Eu digo que se eu estivesse vendo (Ingmar) Bergman (diretor de filmes como “Morangos Silvestres”, de 1957, e “Gritos e Sussuros”, de 1972) eu tinha me matado. Por mais que eu ame Bergman, eu não conseguiria lidar com uma coisa tão dura naquele momento. Mas se eu estivesse vendo uma coisa muito frívola, eu não ia conseguir me conectar, porque estava vivendo uma profunda questão pessoal. Naquele momento eu vi como sofisticada é a linguagem do Woody Allen, porque conseguia funcionar em dois níveis. Eu conseguia rir, ver aquela narrativa que parece sem esforço, parece muito natural, muito fluida, e ao mesmo tempo pensar importantes questões filosóficas sobre a vida, sobre as relações humanas.
Então quando eu entrei para fazer o mestrado em Letras, eu fui ler teoria da narrativa. Aí eu entendi que tinha uma coisa bem literária, muito filosófica, no Woody Allen. Eu fiz a dissertação sobre a questão da inevitabilidade da morte na obra dele comparando com a obra do romancista Philip Roth (de livros como “Casei com um comunista” e “Complô contra a América”).
No doutorado eu fui para um viés um pouco mais radical, em que eu li cinema e literatura, mas baseado só no cinema. Eu analisei os personagens escritores e como que o processo literário poderia ser representado no cinema de Woody Allen. Porque a princípio é uma coisa muito não imagética. É diferente de um bailarino ou de um pintor, que fazem coisas que tem muito apelo visual. Como que você representa isso? E é interessante porque ele está sempre fazendo roteiros originais com uma obsessão pelo tema do escritor. O que seria o personagem do escritor, o que seria o processo literário, como é que esses personagens vivem na sociedade, como se relacionam em relação às coisas.
Woody Allen, de certa forma, é um escritor do cinema. Não quero falar que é um cara que não domina a linguagem do cinema, mas ele domina muito bem a linguagem da narrativa, literária e filosófica. A tese e a dissertação foram realizadas na Literatura Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A tese foi defendida em outubro e eu espero publicá-la, mas com essa polêmica eu não sei se alguma editora estará interessada em uma tese sobre Woody Allen.
Entrando na polêmica sobre Woody Allen, você acha possível separar autor e obra?
Eu sempre me deparo nessa questão nas aulas que eu ministro e nas ocasiões em que falo. Acho que é uma questão individual e que cada um tem que responder por si só. Eu, pessoalmente, acredito que é possível porque a gente sabe que a história da arte é a história de grandes homens terríveis, com algumas poucas exceções. Também é a história do apagamento das mulheres. Então tem toda uma corrente agora que diz: esqueçamos os homens terríveis e vamos atrás das mulheres que foram esquecidas. Mas eu não quero viver em um mundo em que eu não possa ouvir (Richard) Wagner (compositor do século XIX), que não possa ler (Jorge Luis) Borges (escritor argentino, autor de contos como “O Aleph”). Enfim, aí vai até o paroxismo. Em última análise, você não pode nem chegar na Itália e olhar para cima porque todas aquelas grandes obras arquitetônicas foram feitas como? Foram feitas na base de que trabalho? De que mão-de-obra? Essas questões são muito complexas. Eu acho que as obras são um patrimônio da humanidade, elas são independentes.
Eu me coloco duas questões. A número um é: essa obra tem um discurso racista, misógino, de incitação ao crime? Se tem, eu escolho não participar disso. Por exemplo, eu não assisto os filmes da Leni Riefenstahl (cineasta alemã ligada ao nazismo, com obras esteticamente inovadoras como “Olympia”, de 1938). Eu não passo os filmes dela nas minhas aulas. Eles são lindos esteticamente? São. Eles têm coisas inovadoras? Têm. Quando ela coloca aquela câmera no mastro da bandeira, aquilo é lindo, incrível. Mas ela fez filmes nazistas. Esse é um dos lugares onde eu traço a minha linha.

A segunda questão é ainda mais complexa. Refere-se a filmes em que o abuso faz parte da produção da obra. Um dos meus filmes favoritos é “O Último Tango em Paris” (de Bernardo Bertolucci, 1972). E agora eu tenho muita dificuldade em rever por causa de todo o abuso que a Maria Schneider passou. Ou então “Os Pássaros” (de Alfred Hitchcock, 1963) ou “O Iluminado” (de Stanley Kubrick, 1980). Mas mesmo assim eu caio em contradição, porque são filmes que eu gosto, que estão no meu coração. No “Os Pássaros”, Tippi Hedren foi abusada o filme inteiro. Ela teve um problema sério na córnea porque ficavam jogando pássaros vivos nela e um deles arranhou seu olho. Mas se você for perguntar para Tippi Hedren hoje se ela quer que você boicote “Os Pássaros”, que é o grande trabalho de sua carreira, possivelmente ela vai dizer que não.
Agora, nos casos em que a obra não tem nada disso, mas o problema é a vida pessoal do indivíduo que criou aquela obra, eu escolho separar. Escolho separar por muitos motivos. Primeiro porque eu acho que essas obras são valorosas, são interessantes, têm o seu lugar na história do cinema. E porque além de tudo o cinema não é uma arte individual. A gente fala que o autor do filme é o diretor, mas e as outras milhares de pessoas que fizeram parte da composição daquela obra? Você vai boicotar porque o diretor fez alguma coisa, porque o ator principal fez alguma coisa… Mas digamos que a tal obra foi o grande trabalho da vida daquele roteirista, do montador, do iluminador. Por exemplo, eu não boicoto os filmes do (Roman) Polanski (de filmes como “O Bebê de Rosemary”, 1968, e “O Pianista”, 2002) que é um criminoso. É um diretor genial na minha opinião. Se ele deveria estar preso ou trabalhando é uma outra questão. Ele (Polanski) deveria estar preso, é um caso confirmado, é um fugitivo da justiça.
Mas eu não acho que você tem que dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Eu só mostro às pessoas que quando você não separa o artista da obra, querendo ou não acaba caindo em uma série de contradições. Ao mesmo tempo, quando a pessoa faz a opção pelo boicote, ela deve ser respeitada. Mas a opção inversa também deve ser respeitada. Eu acredito acima de tudo que se você diz às pessoas que elas não podem ver alguma coisa, e essa coisa não tem um claro discurso de ódio, você é um censor. É muito perigoso você se colocar na posição da censura.
Em relação ao último filme do Woody Allen, tem acontecido de atores estarem doando seus cachês por estarem arrependidos de terem trabalhado com o diretor. Como você vê isso?

Eu não estou na cabeça das pessoas, então não posso julgar. Mas eu não sei até que ponto essas pessoas estão arrependidas de terem trabalhado com Woody Allen. Principalmente porque esses atores que fizeram o filme ainda a ser lançado, “A Rainy Day in New York”, tomaram uma decisão informada. Porque quando o fizeram, ele foi produzido agora em 2017, essas acusações já tinham voltado, já tinha todo um movimento. É diferente de alguém que fez um filme nos anos 2000 ou nos anos 1990 (quando as acusações não haviam retornado à mídia).
Woody Allen não chegou a ser julgado. Na época as acusações foram consideradas como improcedentes. Acho que existe uma pressão muito grande para esses atores agirem dessa forma, como a Kate Winslet (atriz em “Roda Gigante”, 2017) que disse há dois meses, em um exagero horrível, que Woody Allen entendia tão bem das mulheres que era praticamente uma mulher. Agora ela está dizendo que se arrepende. A Mira Sorvino ganhou um Oscar por um filme dele (“A poderosa Afrodite”, 1995). E ela diz que se arrepende de ter feito, embora tenha sido o filme mais reconhecido de sua carreira. Rebecca Hall se tornou uma atriz famosa por causa de “Vicky Cristina Barcelona” (2008). Provavelmente muitos tomaram essa decisão porque eles realmente acham antiético trabalhar com uma pessoa que eles julgam ser culpada. Acho também que existe uma pressão para não perderem contratos, não perderem uma base de fãs que fica o tempo todo pedindo para se posicionarem dessa ou de tal forma.
Mas outras pessoas se posicionaram de forma diferente. Charlotte Rampling, Alec Baldwin e Diane Keaton – que é sabidamente super amiga do Woody Allen – se posicionaram dizendo que trabalhar com ele foi uma das melhores experiências da vida.
Tenho muito cuidado em falar porque acho que o Time’s Up é um movimento super importante (o Time’s Up é um movimento que teve início em 2017 contra o assédio sexual em Hollywood, na esteira de acusações a nomes importantes da indústria cinematográfica, como o produtor Harvey Weinstein e muitos outros). Mas também entendo que existem exageros que vêm na esteira do movimento. Porque eles vêm de décadas e décadas de uma raiva reprimida, de um abuso reiterado em uma indústria super machista como o cinema. Então quando isso vem, vem com um nível de ódio e agressividade que é completamente compreensível. Mas algumas coisas passam de uma forma que talvez não seja bem dosada no momento.
Como você vê essas acusações contra Woody Allen?
Eu diria que qualquer pessoa que não o conheça pessoalmente, que não é testemunha e que não estava lá, não consegue dizer o que aconteceu com 100% de certeza. Você pode apenas acreditar ou ter uma posição. Eu li obviamente muita coisa sobre esse assunto. Li muito mais do que qualquer pessoa com quem conversei. As pessoas acham que sabem das coisas, mas não viram as entrevistas, não leram o relatório da polícia, não leram as matérias contra e a favor, as matérias que ficam no meio do caminho, os depoimentos de pessoas colaterais como a empregada, os filhos que estavam presentes. Sobre o caso do abuso contra Dylan (Farrow, enteada de Woody Allen que o acusa de tê-la violentado enquanto criança), não tenho como dizer conclusivamente se ele é culpado ou inocente.
Por eu não ter como dizer conclusivamente, prefiro acreditar na presunção da inocência até alguém talvez provar de uma forma contrária.
Por eu não ter como dizer conclusivamente, prefiro acreditar na presunção da inocência até alguém talvez provar de uma forma contrária. Tendo a pender mais para esse lado porque na época do processo houve uma junta de médicos e psicólogos que concluíram assim. Se a gente começa a acreditar que uma junta de psicólogos estava errada ou foi comprada, a gente vai para um caminho meio louco. Por um lado, é verdade que quando uma vítima fala de um abuso, raramente ela está mentindo. Por outro lado, é verdade que existem pessoas que mentiram ou que criaram falsas memórias. Assim como há pessoas que foram acusadas injustamente. É importante que o movimento feminista encontre um outro posicionamento para a questão das falsas acusações. Porque o único posicionamento que o movimento feminista tem, é dizer que as falsas acusações são raras. Mas não é porque uma coisa terrível acontece de forma rara, que ela não deve ser tratada. Inclusive, não é nem pelo Woody Allen. Ele não vai ser preso e não corre esse risco. Mas hoje, homens negros e pobres são acusados de estupro falsamente o tempo inteiro. E eles são presos e muitas vezes ficam 30 ou 40 anos na prisão nos Estados Unidos que é um país muito racista. Tem documentários sobre isso, “Murder on a Sunday Morning” (de Jean-Xavier de Lestrade, 2001) ou o próprio “Making a Murderer” (de Laura Ricciardi e Moira Demos, 2015) sobre uma falsa acusação de estupro e assassinato.
Eu acho que as pessoas têm convicções muito grandes sobre esse caso do Woody Allen e as convicções são baseadas no fato de que: Woody Allen realmente teve relacionamentos com adolescentes; Woody Allen realmente se casou com a enteada dele, que não era filha dele e não era alguém que morava com ele, como as pessoas dizem. Ele tem uma vida moralmente repreensível. No entanto, se eu for começar a listar todas as pessoas que têm uma vida moralmente repreensível, eu vou estar cometendo uma injustiça. Ao mesmo tempo pode ser que ele seja culpado sim. Mas é difícil afirmar uma coisa ou outra. Existem muitos fatos extremamente contraditórios em todo esse processo. Ele tem um outro filho adotivo (Moses Farrow) que acabou de dar uma declaração dizendo que estava presente nesse dia e que o Woody Allen nunca se ausentou com a irmã, que isso nunca aconteceu, que não tinha trenzinho no sótão. (No depoimento de Dylan Farrow, Woody Allen a teria levado para o sótão onde a teria colocado para brincar com um trenzinho enquanto ele a abusava.) Das crianças que Woody Allen tinha em conjunto com a Mia Farrow, ele (Moses) é o mais velho. Hoje ele é um terapeuta familiar. Ele diz que a acusação é uma memória inventada da irmã e que via Mia Farrow ensaiando (com Dylan) e que a irmã dizia que iria mentir para o júri. Dylan, por outro lado diz que lembra, deu uma entrevista chorando, consternada. Ela parece sentir aquilo com muita força.
Você não se contradiz enquanto feminista com esse tipo de raciocínio?

Tem gente que acha que sim. Eu acho que não. Eu até gosto de ir a congressos e falar, às vezes, em uma mesa sobre feminismo e depois dizer que estudo Woody Allen, porque eu gosto de ver a cabeça das pessoas ‘renderizando’. Elas ficam olhando para mim assim… as engrenagens ficam mal azeitadas. Não existe uma cartilha do movimento feminista, não é um movimento coeso em que diz que você deve fazer isso ou não deve fazer aquilo.
Eu acho que a gente tem que ouvir as vítimas, acho que temos que acreditar nas vítimas como princípio, mas acho também que existem casos individuais que a gente tem que ouvir todos os lados da situação, porque também existe o outro lado. Isso sendo dito, é preciso estabelecer uma coisa: se amanhã Woody Allen for considerado culpado, ou se amanhã eu mudar de postura, isso muda a minha relação com a figura dele, mas não muda a relação que eu construí com a sua obra. É uma obra importantíssima para mim, importantíssima na minha formação como uma pessoa que pensa cinema. É importantíssima na minha biografia. Seria extremamente lamentável. Eu iria torcer para ele ser preso, mas eu não iria pegar a obra dele e jogar fora. Eu não sou capaz de fazer isso. Acho que ninguém é capaz de fazer isso na real. A obra dele no cinema tem um peso tão grande que mesmo se você forçar ninguém a nunca mais vê-la, ela já vai ter tido um impacto enorme em tudo o que a gente pensa sobre cinema. A própria Greta (Gerwig, atriz em “Para Roma com Amor”, 2012) fala isso: “Eu me arrependo de ter trabalhado com ele, mas ele está na minha formação e ele é óbvio no jeito que faço filmes”. Como é que vai mudar o impacto de “Annie Hall” (no Brasil, “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, 1977) para tudo o que se fala em cinema em termos de relacionamento. Não tem como. O impacto de “Manhattan” (1979), não tem como. Pode jogar tudo fora, mas vai estar sempre ali. Não acaba.
Você estava falando sobre o boicote a filmes racistas ou misóginos, por exemplo. Há uma corrente que afirma que Woody Allen objetifica as mulheres. Obviamente isso não aparece em todos os filmes, mas há algumas obras em que se pode ver ao menos esboços disso. Como você pensa essa questão?
Muita gente me pergunta sobre a representação das mulheres na obra de Woody Allen. Todo homem tem escorregões machistas. Talvez até em Bergman, se eu for procurar eu vou achar escorregões dessa natureza. Mas de modo geral, a obra de Woody Allen tem representações incríveis de mulheres fortes, de mulheres poderosas, de mulheres que têm toda a agência de suas próprias vidas. Não são personagens que são veículos para homens, mas que existem de forma completamente independentes. Têm filmes incríveis, muito à frente do tempo. “Annie Hall” tem essa coisa de desconstruir o que é a figura da mulher naquele estilo de filme, da mulher como objeto. Tanto que ele subverte aquele final clássico da comédia romântica que é o homem correr atrás da mulher, chegar lá com a mulher desavisada e ela largar tudo o que ela tem, todos os planos delas para dizer “eu vou com você para onde você quiser”. É a mesma coisa no final de “Manhattan”, que tem a menina novinha. Ele vai tentar recuperá-la e ela diz, “eu estou indo para Londres, estou indo viver minha vida”.

Se você ver um filme como “A Outra” (1988), que é um dos meus favoritos, ele tem uma representação ‘fodástica’ da mulher profissional dos anos 1980, a mulher que escolhe fazer um aborto porque ela quer privilegiar sua carreira. O homem vira para ela e diz, “como é que você fez isso sem me consultar?”. E a personagem diz: “como assim sem te consultar? Isso é minha vida. Você tem sua carreira estabelecida e eu quero viver minhas coisas”.
Existem personagens menos desenvolvidas? Existem personagens que são quase um veículo para o homem? Eu não gosto, por exemplo, da personagem de “Café Society” (2016). Acho que ela tem pouca agência. Mas não acho que chega a ser uma representação super machista. Tem gente que fala de “Poderosa Afrodite”, que ela é uma prostituta. Mesmo em “Poderosa Afrodite” ele subverte. A personagem vai ganhando espaço, vai ganhando consciência de quem ela é. Aquela personagem de “A Rosa Púrpura do Cairo” (1985) é maravilhosa. Não é uma personagem que vai conseguir sair daquele cotidiano terrível. Mas ela não tem que ser forte e super feminista para ser uma personagem tridimensional. Eu poderia citar ainda tantos outros filmes. Ele compreende as personagens femininas de uma maneira geral bem bacana. Ele tem frequentemente protagonistas mulheres. Ele tem frequentemente elencos com muitas mulheres, como “Hannah e Suas Irmãs” (1986). Filmes com relações entre irmãs, entre mães e filhas, relações entre mulheres. Eu não o vejo como um diretor machista. Hoje em dia existe uma vontade de ver o que se quer ver na obra. É aquela coisa do biografismo que eu sou totalmente contra, uma das coisas que acho mais erradas na academia.
Eu estudei a obra dele e não vi esses filmes apenas uma vez. Tem filmes que eu vi trinta vezes. Eu não estou dizendo que sou a voz da autoridade, mas as pessoas veem, às vezes, ‘mal visto’, com um certo preconceito e aí assistem um filme que tem um cara de 40 anos com uma menina de 17 e dizem que isso é machista. Então vamos lá, por que isso é machista? Ele representa de forma machista por quê? Na vida, ninguém de 18 anos tem caso com alguém de 40? E é sempre machista se for assim? Ou é por que só representa dessa forma e não o contrário? Ele está representando um ponto de vista dele que, aliás é uma crítica que pode ser feita a Woody Allen. Ele representa um recorte de homem branco, de classe média ou classe média alta, em uma Nova Iorque intelectualizada, que tem um determinado acesso à cultura. Ele tem outros filmes que não são assim? Tem. Mas em geral é esse o recorte. Ele tem pouquíssimos personagens negros, tem pouquíssimos personagens homossexuais ou LGBT de qualquer forma. Mas ele não se pressupõe universal, ele não está fazendo grandes filmes épicos sobre o que é os Estados Unidos. Ele está compondo a partir do lugar individual dele. Obviamente precisamos de outras pessoas que componham de outros lugares de visão. Mas não quer dizer que por causa disso está errado. Ele acaba falando de questões universais de outra forma, a partir do ponto de vista filosófico, do ponto de vista existencialista. Ele tem uma coisa muito forte com o existencialismo sartriano e camusiano que acho muito bonita. Enfim, salvo pequenos escorregões, a obra de Woody Allen não é machista nem misógina e nos traz belíssimas personagens femininas.