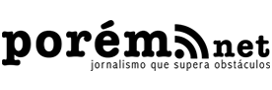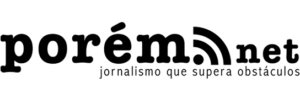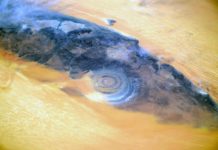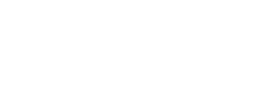Por Mônica Giovanetti*
Nas últimas semanas temos assistido nas redes sociais a algumas manifestações sobre mulheres no poder.
A decisão do judiciário brasileiro sobre a prisão de Lula, condenado injustamente em 2ª instância, gerou desconforto em algumas feministas. Afirmações do tipo: “será que devo rasgar minha carteira de feminista?”, ou então: “Eu não consigo achar que Carmen Lúcia, Rosa Weber e Raquel Dodge são mulheres no poder. Não as mulheres que quero, nem as mulheres agindo da forma como acredito que deveria ser. Quem acha que essas mulheres representam mulheres no poder não entendeu NADA sobre o feminismo.”

Ora, em primeiro lugar temos que admitir que as três representantes do judiciário brasileiro acima citadas estão sim em instâncias de poder, exercem poder e poderiam ser consideradas mulheres “empoderadas”, ainda que suas posições políticas não coincidam com aquilo que muitas feministas defendem ou acreditam.
Em segundo lugar, apenas por serem mulheres, deveríamos esperar delas posicionamento diferente do que adotaram no caso de Lula? Evidentemente que não! Independente do fato de serem mulheres, estas senhoras representam interesses que não são os da classe trabalhadora. Para tomar suas decisões, elas se guiam por suas convicções ideológicas, por seus interesses de classe ou pelos interesses daqueles a quem elas representam nas instâncias do judiciário.
Não podemos, enquanto homens ou mulheres, feministas ou não, nos iludirmos quanto ao papel desempenhado por determinadas mulheres no poder. É o caso, para citar outro exemplo, da recém-empossada governadora do Estado do Paraná, a quem um deputado estadual do PT saudou, desejando sucesso “à primeira mulher governadora do Paraná”. Como se o fato de ser a “primeira mulher” pudesse mudar o caráter de seu governo, como se o fato de ser mulher pudesse apagar o papel que ela e sua família desempenham na política brasileira, a saber: o marido atual Ministro da Saúde de Temer, vem destruindo a saúde pública no país, avançando no processo de privatização dos serviços públicos de saúde; a filha, deputada estadual, vota contra todos os projetos e pautas de interesse dos professores e dos trabalhadores do Paraná, ela própria, Cida Borghetti, vice-governadora de Beto Richa, quem dispensa qualquer comentário.
Temos que compreender que a opressão das mulheres tem como causa a divisão da sociedade em classes, não se trata de um problema de “gênero”. A questão é que não basta ser mulher para eu, como mulher, defender, me identificar, reconhecer, votar, respeitar… A questão passa pelo quê esta mulher representa, a que classe social pertence e, principalmente, quais interesses ela defende.
Quando da luta das sufragistas no início do século passado, o direito das mulheres ao voto era uma questão comum a todas as mulheres, então sua luta era unitária, mas pontual. E a unidade, a frente única, poderíamos chamar assim, ia até aí, até a conquista do direito ao voto. Depois a luta de classes se impõe. Quando interesses antagônicos de classe se colocam não é mais possível manter a unidade.
Carmen Lucia, Rosa Weber, Cida Borghetti, Angela Merkel, Christine Lagarde, Ana Amélia, Raquel Dodge et caterva têm lado, estão no poder a serviço da classe dominante, defendem interesses que não são os meus. Eis o problema de um feminismo que desconsidera que mesmo entre as mulheres exista diferenças de classe.

*Mônica Giovanetti é servidora pública municipal de Curitiba e ex-presidente do Sismuc. O artigo foi publicado no “Jornal Resistir”.