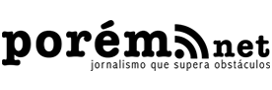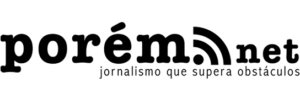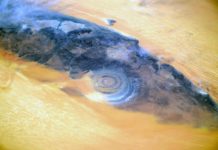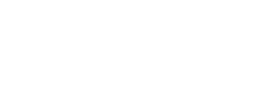Há quase dois anos o futebol brasileiro convive com a expectativa da aprovação do Projeto de Lei (PL) 5516/2019, do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleito neste ano para a presidência do Senador. A criação de uma nova forma jurídica de constituição empresarial carrega consigo uma grande expectativa de reformulação, ao mesmo passo que também divide opiniões acerca dos seus efeitos na indústria do futebol.
Enquanto o projeto tramita no Congresso e gera extensos debates sobre a profissionalização da gestão esportiva, o Brasil assiste instituições tradicionais definharem afundadas em graves crises econômicas oriundas de décadas de más gestões, enquanto países vizinhos prosperam no boom econômico causado por investimentos externos.
Clubes de camisas pesadas como Cruzeiro, Botafogo, Paraná e Figueirense amargaram rebaixamentos e um crescimento exponencial de suas dívidas nos últimos anos. Problemas financeiros que levaram a sanções e elevados insucessos dentro e fora de campo. Nas últimas semanas, o clube catarinense iniciou uma batalha jurídica com um pedido de falência, enquanto o paranaense anunciou que fará um corte de 50% no seu quadro de funcionários. E estes são apenas a ponta do iceberg do contexto brasileiro.
No mesmo período, o City Football Group, holding que pertence ao bilionário sheik árabe Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietário do Manchester City e de outros nove clubes ao redor do planeta, anunciou a compra do modesto Athletic Club Barnechea, do Chile.
A equipe chilena é a segunda aquisição do grupo em dois anos no continente. O City Group também é proprietário do Montevidéu City Torque, do Uruguai, e ainda tem uma parceria com o Club Bolívar, da Bolívia.
Além do poderoso conglomerado, outros grupos detém clubes na América do Sul, como é o caso do Independiente Del Valle, do Equador, gerido por um pool de empresas que conta com a maior rede de shoppings centers do país e representação da rede norte-americana de fast food KFC no continente.
Mas o que tem tornado um mercado nunca explorado e tão pouco vencedor e formador tão atrativo, capaz de superar a força dos clubes brasileiros?
Primeiro de tudo, o formato jurídico tem impacto. Para se ter uma ideia, o Brasil hoje conta com menos clubes-empresa do Peru, Venezuela e Bolívia, países com pouca ou quase nenhuma tradição. Para se ter investimento privado de grandes grupos, primeiro será necessário flexibilizar a migração para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF).
A alta carga de impostos do Brasil também é um problema, uma vez que migrar do associativo para empresa significará também a inclusão da necessidade de pagamento do Confins, Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CLSS), PIS e Imposto de Renda (IR).
Além disso, o futebol brasileiro também enfrenta a desconfiança do mercado, reflexo de problemas fiscais e administrativos oriundos de más administrações e de uma gestão esportiva que ainda engatinha do amadorismo para o profissionalismo no país. Isso, inclusive, tem refletido negativamente também no associativo. Enquanto muitos clubes brasileiros sofrem para conseguir um patrocínio máster, grandes marcas têm cada vez mais migrado para países vizinhos, atrelando sua imagem a mercados mais responsáveis e transparentes.
Por isso, o debate sobre a profissionalização da gestão no Brasil requer mais cuidado e urgência. Somente a migração para as S/A’s não é necessário. É preciso, também, mudar a imagem. Senão, cada vez mais, ficaremos para trás, assistindo a revolução industrial do futebol nos escantear para meros coadjuvantes para dar espaço a novos protagonistas.