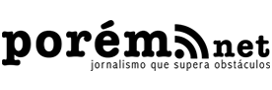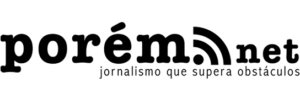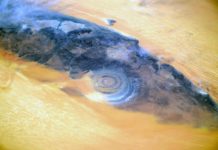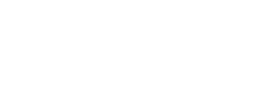Em uma padaria nos arredores da Praia Vermelha, em Salvador (BA), pares de olhos marejados estavam vidrados no noticiário na televisão. Era a quinta-feira do dia 15 de março de 2018 e o clima de perplexidade não era de uma manhã qualquer. Na orla da praia, uma faixa improvisada, em papel pardo, já anunciava uma pergunta que iria ecoar incessantemente pelo próximo ano: “Quem matou Marielle Franco?”
Cerca de 12 horas depois do assassinato, no fim da noite do dia 14 de março de 2018, a capital soteropolitana teve o registro de um dos primeiros atos em homenagem e em luto pela vereadora do PSOL e seu motorista, Anderson Gomes. E que também se tornou um espaço de acolhimento aos ativistas de diversos movimentos populares e entidades de todo o país que estavam na cidade, participando da 13ª edição do Fórum Social Mundial.
Ali, muitos eram amigos, conhecidos ou tiveram algum tipo de contato com Marielle. Este é o caso da jornalista carioca Camila Marins, ativista lésbica e editora da Revista Brejeiras. Ela soube do assassinato da vereadora logo após o ocorrido. Ela tinha acabado de chegar onde estava hospedada quando recebeu uma mensagem de uma amiga pelo WhatsApp.
“Em um primeiro momento, eu achei que era fake news. Depois, logo em seguida, veio a confirmação. E foi aterrorizante, apavorante. Me arrepio só de pensar nesse dia novamente”, lembra Marins.
Também filiada ao PSOL, ela conhecia Marielle da militância política. A jornalista atuou na construção do Projeto de Lei da Visibilidade Lésbica, que foi entregue na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo gabinete de Marielle e movimentou diversas ativistas em uma campanha pela sua aprovação em agosto de 2017. O projeto foi derrotado por apenas dois votos de diferença.
“Não parei de chorar em momento algum, fiquei mandando mensagem para todas as pessoas, tentando, de alguma forma, entender o que tinha acontecido e elaborar o impacto que isso teve na gente”, relata a jornalista.
A manhã de luto
Naquele dia, todas as atividades do Fórum Social Mundial foram suspensas e os movimentos organizaram uma passeata que saiu da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Uma instalação artística que denunciava o feminicídio ganhou uma cruz com o nome de Marielle.
“Em vários momentos, paralisei. Não conseguia caminhar. Mas as mulheres vinham, segurando umas às outras, para gente conseguir fazer essa caminhada. É uma notícia que paralisou todas nós, mulheres negras”, rememora.
A ativista negra Valquíria Rosa, da Partida Feminista e integrante da Fundação Baobá, estava ajudando na organização de um debate sobre Vulnerabilidade, Política e Poder que ocorreria na manhã do dia 15, no Fórum.
Ela lembra que sua primeira reação também foi de desalento quando uma companheira da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo anunciou o fato: “Como assim mataram a Marielle?”, ela questionou no momento. “Para mim, ficou muito explícito que, naquele momento, naquele dia, naquela conjuntura, tudo mudou”, lembra Valquíria, um ano depois.
“Eu cruzei com a Marielle em poucas situações, em encontros feministas. Ela era sempre uma presença marcante em todos os lugares que ela chegava para falar do processo de eleição, da candidatura, as dificuldades que ela vinha enfrentando no mandato. Então, a gente sabia das dificuldades, mas a gente não sabia que essa violência chegaria nesse nível. Foi um impacto muito grande.”
O cortejo de mulheres que gritava “Marielle, Presente” e “Parem de nos matar”nos arredores da UFBA na manhã daquela quinta-feira se espalhou espontaneamente pelo país. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília e outras cidades registraram manifestações espontâneas e volumosas naquela data.
O sentimento de luto por Marielle também ganhava contornos de uma identificação em mulheres negras, militantes, periféricas, lembra a estudante de serviço social Geslaine Oliveira, que vive em Juiz de Fora (MG).
“Assim como a Marielle, eu também militava em um partido na época, compunha a direção de um coletivo feminista, sou uma mulher negra, periférica, sou bissexual. Então, para falar a verdade, eu comecei a ficar com medo de militar”, relata a estudante. Gê conta que teve crise de ansiedade por duas semanas e, até hoje, tenta elaborar esse sentimento.
“Eu acho que esse medo tem que se transformar em um momento para se refletir sobre nossa segurança, mas também que ele se transforme em luta. Ela não viveu tudo o que viveu para gente, com medo, parar de lutar pelo que ela lutou a vida inteira”, propõe.
Distante do país, a mais de 9 mil quilômetros da sua cidade natal, a jornalista carioca Caroline Cavassa, soube da morte da vereadora nas redes sociais, apenas no dia seguinte. Ela mora em Roma, na Itália, há três anos. “Foi uma dor muito solitária”, conta.
“Como tem a questão do fuso horário, que na época eram cinco horas de diferença, eu não soube no horário exato, eu estava dormindo. Eu acordei por volta das 8h da manhã e abri o Instagram e vi várias fotos da Marielle no meu feed. Eu não entendi o que estava acontecendo”, relembra.
“Foi muito difícil porque eu estava sozinha. Eu não pude compartilhar aquela dor com outras pessoas que entendessem o que estava sentindo. E como aquilo me golpeou forte não só por uma questão de ter sido um assassinato brutal, mas porque era mulher que me representava.”
A notícia reverberou nos jornais italianos e em outros países. Em Londres, por exemplo, brasileiros se mobilizaram algumas semanas depois. Ela afirma que a comunidade continua denunciando o assassinato de Marielle em instâncias internacionais. Ela participa, desde então, de atos no exterior, para continuar dando repercussão internacional ao fato.
“Pode até parecer um pouco clichê, mas foram realmente sementes que ela deixou. Eu fico feliz hoje de ver outras mulheres negras que conseguiram ser eleitas para dar continuidade ao trabalho que ela fazia na Câmara”, diz Carol.

O amanhão por respostas
Um ano depois, a pergunta que se estendeu na Orla de Praia Vermelha permanece. Camila Marins conta que se apoia no legado de Marielle para continuar seguindo com as pautas de Marielle contra o racismo e o extermínio da população negra, pobre e periférica.
“Nós já somos alvos dessa sociedade racista. E isso ficou ainda mais evidente com o assassinato dela. Somos os corpos mais vulneráveis nesses espaços. Por isso é tão importante que a gente apoie todas as mulheres negras que estão na política, as que estão acessando o parlamento pela institucionalidade, para que consigamos fazer um corpo coletivo de apoio, de segurança, de cuidado dessas mulheres negras. E a morte dela simbolizou isso.”
Já Valquíria Rosa afirma que o assassinato de Marielle colocou num lugar de alerta e percepção. “Foi um ano emblemático porque existe um propósito muito grande de eliminação de quadros políticos. Tanto quadro políticos mais antigos quanto quadro políticos mais novos. Ou matando, ou levando ao desgaste máximo”, avalia.
A ativista avalia que o crime também explicitou uma violência que é presente e diária: “A gente viveu este desgaste tendo que restabelecer energia criativa, de luta de vida, mas dentro de um desgaste muito grande. Nós, população negra, LGBT, mulheres e pobres, não temos acesso ao direito e à justiça. O Brasil vive explicitamente em um estado de exceção. Dentro disso, é o salve-se quem puder”.
“A gente precisa mudar as nossas estratégias, quando a gente precisa realmente prestar muita atenção umas às outras e nos protegermos entre nós. E entender que somos nós por nós”, diz.
Hoje, Valquíria afirma que, para ela, é um dever lembrar a imagem de Marielle em todos os lugares que houver oportunidade. Para não se esquecer, em nome e pela vida de todas as mulheres negras, lésbicas, pobres e periféricas que, como ela, esperam há mais de 365 dias por respostas.